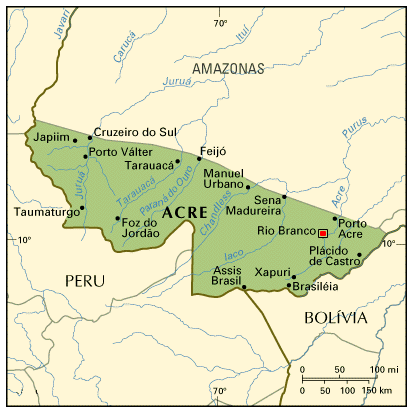Thiago de Mello*
Não tinha a fama nem o prestígio da atual. E era genuinamente cabocla, embora em seus tempos dourados esbanjasse matéria-prima importada de vários países da Europa. É verdade que nunca chegou a ser de atração nacional, como a de agora. Mas era indiscutivelmente mais franca. Aberta a quem chegasse, não fazia acepção de pessoas: desde que fossem masculinas, donas de muita disposição e de um mínimo de capital. Era a zona das mulheres. De mulheres da vida, se dizia. Ou de mulheres que faziam a vida, expressão que sempre achei de sortilégio. Havia quem chamasse, nariz orgulhoso e torcido, a zona da prostituição, as ruas das raparigas.
Moça da família, os pais não permitiam que passassem pelos quarteirões daquelas ruas onde se exercia a mais antiga profissão do planeta, nas casas do meretrício. Perdão, do baixo meretrício, era assim que diziam, porventura a indicar a existência de um meretrício mais alto, quer dizer, mais caro e mais escondido. Ou talvez se tratasse de referência saudosa ao tempo das francesas de vestido longo e decotado da Pensão Floreaux, na rua Epaminondas, ou das que chegavam elegantíssimas e perfumadas, já madrugada alta, acompanhadas de cavalheiros de casaca, para uma ceia com champanhe no Bar Alemão ali na Marechal Deodoro à época do esplendor da borracha.
Para o povo a Zona era mesmo e simplesmente a zona, tout court, sem adjetivos. Ficava bem no centro da cidade, fraternalmente concentrada em trechos de quarteirões de ruas importantes. O eixo era a Saldanha Marinho: a mesma rua que abrigava moradias sóbrias e moradores austeros, abria-se para a vida alegre das pensões a partir da rua Joaquim Sarmento e só ia terminar lá na rua da Instalação, nos procuradíssimos bordeizinhos do último quarteirão enladeirado. Da Saldanha Marinho a Zona ganhava asas para as transversais Joaquim Sarmento e Logo D’Almada, um pouco para o lado da Sete de Setembro, outro pouco para as bandas da 24 de Maio. Casinhas da alvenaria colonial, soalhos de madeira que cantavam.
Mal a tarde começava a cair, a Zona, qual mulher sadia que desperta a dengosa se espreguiça, dava começo aos seus macios movimentos, com a chegada dos primeiros freqüentadores a fanar pelas esquinas e das primeiras caboclas, cabelos ainda molhados, ao parapeito das janelas. Só quando era já noite mesmo é que, até então mal-entreabertas, escancaravam-se as portas ou meia-portas, sobre as quais não faltava a famosa lanterna vermelha, em cujo brilho vagamente ardia um tição de tristeza.
O canto da Instalação com a Saldanha Marinho não marcava, porém, o limite da Zona, que a atravessava para alcançar outras ruas boêmias: a Itamaracá, a Frei José dos Inocentes. Por toda década de quarenta a Zona teve como lugar principal de bebida e de baile o Cabaré Chinelo, sábio e delicioso nome que o povo encontrou para substituir o Hotel Cassina, que no mesmo e bonito prédio funcionou até o fim da nossa belle epoque, freqüentado sôo por gente de finas libras esterlinas, não importava se oriundas das algibeiras de grosseiros coronéis de barranco.
Pensão da Lola: Ninguém pode negar que por todos aqueles anos quarenta a pensão da Lola, na Saldanha Marinho, era a melhor de todas as casas da Zona. É juízo unânime dos bons freqüentadores daquelas ruas. A numerosos deles agora consultei, e de todos a Lola teve o voto, ao qual com iniludível pena, não pude juntar o meu. Para que mentir? A verdade é que, naquelas noites, apenas estive perto, nunca tive acesso à boca da urna.
Era italiana, de sobrenome Ferdi. Alguma vez a contemplei descendo a Avenida: era elegante, alta, muito digna de leque abanando o rosto claro. Cuidava com esmero de sua moças, vigiava-lhes o asseio e a saúde. De índole romântica, sabia de cor o seu Dante, atirava de relance para a sua mesa, com abajur de centro, sempre bem concorrida, uma estrofe de Petrarca. Em contradição, ou talvez por coerência, a nenhuma das moças permitia histórias inventadas, choramingas, a justificar o passo mal dado que lhes abrira o caminho para a vida “não me venham com histórias. Estão aqui porque querem, estão aqui porque gostam. Fazem muito bem. Honrem a profissão. E tratem de não enganar ninguém”. Lola Ferdi morreu rica e triste, no começo dos 50. Famoso advogado de Manaus, leal amigo da dona-de-pensão presume-se que amigo de todas as horas, cumpriu o que ela, em testamento, lhe ditou: herdou os seus bens.
Consta que alguma parcela ficou destinada ao amparo de duas ou três de suas melhores moças já fatigadas.
*Escritor amazonense, autor de diversas obras de reconhecido valor mundial. Destaque para - Manaus, Amor e Memória, Rio de Janeiro: Philobiblion, 1984. (p.247/49).